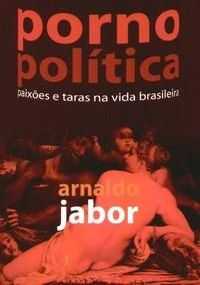O Malabarista: os melhores artigos de Arnaldo Jabor
Infância - II
“Falem por alto!...” — minha mãe dizia, quando eu entrava na pequena sala de visitas, com poltronas verdes e um quadro de rosas na parede. Naquela época o tempo era lento, as ruas silenciosas, as tardes vazias e as mulheres casadas se visitavam, em busca de alguma verdade que explicasse suas vidas; mas, quando se reuniam na salinha de minha mãe, ficavam tensas e grandes verdades morriam mudas.
Por isso, as conversas viravam sempre para o mundo “lá fora”, pois a vida era dividida entre o que se passava na rua e ‘dentro’ das casas, onde os filhos se criavam, as empregadas cozinhavam e os maridos chegavam. Mas não havia ‘fora’ nem ‘dentro’.
Só havia o rádio com tristes novelas, havia os telefones pretos e as geladeiras brancas, havia os sofás de cetim e as almofadas de crochê; mas elas se sentiam vazias de alguma coisa que ignoravam, sentiam-se barradas de um baile que devia existir em algum lugar, sonhavam com filmes americanos, beijos ardentes, finais felizes, galãs tão diferentes dos maridos deprimidos que chegavam do escritório.
Minha mãe tinha uma voz especial para as amigas, frases escolhidas ponteadas de sorrisos, ostentando uma felicidade tranquila que eu não via no dia a dia. Era a mesma voz que usava para falar ao telefone com as cunhadas tão odiadas por ela — uma voz estudada, afetuosa que sumia e dava lugar a um rosto rancoroso quando desligava. Por que ela muda a voz? — eu pensava. As visitas também falavam com o tom discreto e calculado de senhoras casadas, como se temessem alguma coisa — o quê, meu Deus? — a perda da dignidade de esposas honestas?
Aquela tristeza no ar me intrigava. Tristeza nas lâmpadas fracas, nos rostos das mulheres de minha família.
Quando eu entrava na sala, minha mãe avisava: “Falem por alto!...” — era a senha para não falarem coisas que eu não podia ouvir.
Então, o mundo se encantava, aquela salinha de visitas virava um tesouro de mistérios. Elas possuíam um segredo que me era vedado, ocultado.
E tudo ficava interessantíssimo pois, para além daquela salinha feia, havia algum acontecimento extraordinário, talvez até um crime que não me revelavam — por quê? Eu me encolhia no chão entre as cadeiras, tentando pescar algum indício em suas falas que não eram para crianças como eu, ali, me contorcendo entre pernas cruzadas e xícaras de café. “Falem por alto...!”
Aí, a conversa mudava para frases cortadas ao meio, gestos e mímicas cifradas: “Ah... Fulana, vocês sabem quem é, aquela, aquela... Pois o marido não viajou, não. Largou ela por uma... Já sabem... Uma (quem, quem?), uma da “vida” , “femme du bas fond” (falavam francês na época)... E a filha dela? Será que ela ainda é... Acho que ela já perdeu ‘aquilo’... Ihh, já furou há muito tempo!...” Os risos vinham repassados de um pudor discreto de senhoras. “Perdeu o quê?” — pensava eu no chão. Eu tinha que descobrir.
“E Sicrana? Sabem quem é, não? Ah, essa “costura pra fora!”
O gesto de minha tia foi para o outro lado da rua. “Lá... lá...” — apontavam. Mas, “lá” era a casa de dona Nina, mãe do meu amigo Caveirinha, que não era costureira — pensei, alarmado.
“É só olhar: toalhinhas higiênicas com sangue no varal, calcinhas na janela, novela alta, roupa berrante para uma viúva, maiô de duas peças na praia!”
“Eu me benzo quando passo em frente!”, disse a prima pobre, humilde, ouvida com pouco afeto, pois temiam que pedisse alguma ajuda para sua miséria de tamancos e unhas sujas.
Havia nas pernas apertadas, nas saias discretas, uma solidão que não conseguiam ocultar, mesmo nas conversas íntimas, troca de cochichos e maledicências. Escondiam-me fatos, mas eu sentia a presença de algo que não estava ali.
Olhei pela janela e vi dona Nina numa cadeira na varanda, alta e muito branca. Devia estar esperando o filho, meu amigo Caveirinha. Senti que lá estava a resposta para a conversa “por alto” e comecei a ter medo e desejo de ir à casa de dona Nina.
Para disfarçar, aumentei minha criancice, me arrastando entre as cadeiras, forçando a fatal repreensão de minha mãe, ao me ver acariciando a perna de minha tia mais moça, perna gorda, com estrias azuis, boa de pegar, que minhas mãos alisavam, apertando a panturrilha. “Menino...! Para com isso!” “Este menino é danado”, diziam, com sorrisos maldosos...
Meu pai chegou do trabalho e entrou na sala. As dragonas rebrilhavam na farda de capitão. Tudo mudou. Minha mãe correu a abraçá-lo, exibindo um afeto conjugal que não o comoveu em sua viril antipatia. As vizinhas se ergueram, nervosas com sua presença. O bigode, o cabelo com brilhantina, o uniforme, tudo as fazia arfar de emoção enquanto se aprestavam: “Já estamos de saída...” (Por que aquela súbita pressa? — eu pensava).
E foram embora, como um grupo de refugiadas. Ficou a sala vazia, onde não tinha acontecido nada naquela tarde, nada houvera ali, nada, além de seus desejos não formulados. Elas não sabiam o que desejar e não sabiam que não sabiam.
A noite ia cair e eu resolvi ir à casa do Caveirinha. Cheguei ao portão aberto e fui entrando. Ninguém estava no quarto do Caveirinha, Carlos Eduardo para a mãe, que era viúva de um marido que, diziam, bebia e que caíra na linha do trem. Ninguém.
Súbito, no fundo do corredor, ouvi um choro remoto. No quarto já avermelhado pelo fim do dia, vi, pela fresta da porta, dona Nina, enrodilhada num sofá do quarto, de costas para a porta e nua — completamente nua. Ela soluçava num choro convulso e seu corpo tremia muito. Seu pranto crescia para um gemido cada vez mais alto, mais alto e, súbito, parou, com um grito. Depois de um tempo, ela se ergueu. Ela não chorava. De olhos secos, veio andando em direção à porta de onde eu a espreitava. Sua nudez era coberta de pelos negros no púbis, que se alastravam pelas pernas muito brancas. Nua como uma Vênus peluda. Fugi em pânico. Tinha visto alguma coisa que eu não sabia o que era, mas entendi que era o que eu não podia saber.
Nunca mais visitei o Caveirinha.
Livros
Neste livro, Arnaldo Jabor apresenta uma coletânea de crônicas em que temas públicos misturam-se ao universo de nossas fixações interiores. Política, sexualidade, miséria, arte, memória, medo - ao usar o cotidiano como matéria-prima de seus textos, Jabor associa fato e ficçã
Os textos de Arnaldo Jabor têm o poder de despertar, inquietar, polemizar. Ácidos, líricos, deliciosamente vorazes, estão sempre sintonizados com os assuntos que mexem com a vida dos brasileiros e brasileiras. ’Amor é prosa, sexo é poesia’ reúne suas melhores crônicas sobre nossas o
Filmes
O Casamento é um filme brasileiro de 1976, do gênero drama, dirigido por Arnaldo Jabor. O roteiro é baseado na obra homônima de Nelson Rodrigues. O senhor Sabino, um rico industrial da construção civil, nutre um amor incestuoso pela filha Glorinha de 18 anos, que vai se casar em dois dias. O médico
O filme relata a história um casal formado por um Industrial recém separado e falido durante o milagre dos anos 70 e uma mulher traumatizada por um relacionamento unilateral, que desejam desesperadamente se amar mas têm um medo brutal deste encontro. É um filme repleto do sumo do bom gosto da arte brasileira. Come&cce